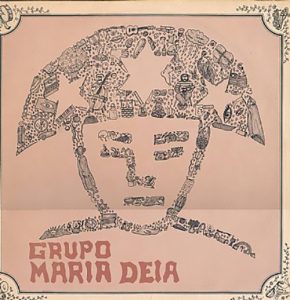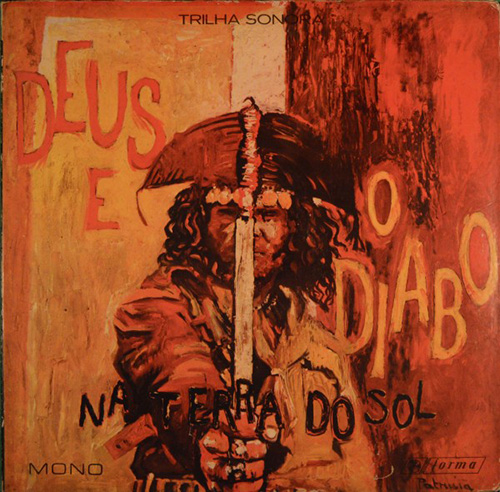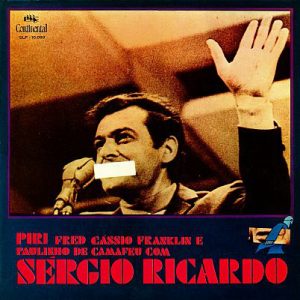Na produção audiovisual, há criadores brasileiros que tomam por combustível a arte de colegas artistas, na elaboração de obras como as séries Ouro velho, mundo novo e Lama dos dias, atualmente em exibição na tevê. Nas duas obras, pesam a criatividade e a poesia de poetas reconhecidos (ou não), empenhados na chamada cultura popular.
“O povo tem tudo a ensinar. É impressionante como a gente mergulha na riqueza. Eles têm resposta para tudo. São maravilhosos: pessoas que compreendem o mundo de outra maneira — são fantásticos”, observa Cláudio Assis, um dos diretores de Ouro velho, mundo novo.
Atraído pela poesia, junto com Assis, o pernambucano Lírio Ferreira é o cocriador da série que trata de cordel e trova nas divisas entre Paraíba e Pernambuco. Circular pelos locais colocou Lírio em ciclo criativo que o instiga, “repleto de movimento, risco e dúvida”, como descreve. “Pude perceber a grandeza, a imensidão e a força daqueles poetas que habitam um lugar aparentemente inóspito e que se valem da poesia para subverter essa imagem árida e a tornar ao mesmo tempo, fértil e luxuriante”, comenta, ao tratar da série.
Num retrospecto, Cláudio Assis enumera outro movimento de adesão maciça, gerada em Pernambuco: o manguebeat. “Era tão efervescente que não deveria parar nunca. Todos seguem a vida: estão aí o Hilton Lacerda, o DJ Dolores (autores da série Lama dos dias, também exibida pelo Canal Brasil), Lúcio Maia, Lírio e Zé du Peixe. Acompanhei demais todos. Trabalhei com o Xico Sá. Temos uma amizade muito bem nutrida. Éramos um grupo grande, que se olha no olho, e se respeita muito, ainda hoje”, conta Assis.
Numa espécie de “gambiarra do manguebeat”, DJ Dolores (ao lado de Hilton) resgatou “imaginação e vontade de realizar”, tudo reciclado em Lama dos dias. Na visão de Dolores, cultura independe do fato de uma pessoa ser letrada. “O que torna a cultura forte tem a ver com a preservação da memória, da identidade e da oralidade, tronco forte da sabedoria de um povo”.
Daí ele descrever o sumo de Lama dos dias: “O que sustenta esteticamente a música do manguebeat e todo o comportamento é exatamente a cultura que vem da diáspora africana. É um dado presente no Nordeste e nas músicas que ouvíamos. O nascente hip hop, house, techno, reggae, dub e tudo isso, misturado com embolada, cocos e maracatus que estão no nosso DNA desde sempre”.
Quais foram as inspirações e origens da série?
De uma forma geral, no meu trabalho, tento falar sobre o Nordeste contemporâneo. A narrativa dominante é a do Sudeste, e ela cria mil estereótipos sobre a gente. O Sudeste é uma região que tem muito mais dinheiro, então há uma relação de colonização. No Nordeste, temos uma cultura muito resistente a isso. Quando chegamos pelo olhar do Sudeste, chegamos desmembrados, parodiados. Em qualquer oportunidade que tiver, vou lembrar do que a gente faz, da nossa presença no mundo. Seja através da música, do cinema, seja através do nosso comportamento que, aliás, é muito mais avançado do que no Sudeste. Você vê que Bolsonaro perdeu feio aqui nas eleições (risos). É sempre fundamental resistir à cultura do dinheiro, do liberalismo tosco neste Brasil que parece que não tem jeito.
Com Chico Science (morto em 1997), estaríamos diferentes?
Chico era um aglutinador: ele se mostra importante em qualquer momento histórico. Era um entusiasta, ele conseguia fazer as pessoas se unirem em torno de algum projeto. É uma pessoa que faz muita falta. Estamos precisando de liderança, de quem traga esperança ou entusiasmo no discurso.
O que você tem ouvido na quarentena?
Eu tenho trabalhado muito. Tenho feito vídeo, música, parceria com pessoal de dança. Estou escrevendo roteiro. No final do dia, a cabeça fica tão cansada que a última coisa que quero fazer é ouvir música. Vejo filme, para relaxar. Normalmente, gosto muito de brega-funk do Recife, gosto dos funks do Rio de Janeiro, gosto da produção que vem do Norte. É um tipo de produção que tem volume grande, tem sempre uma novidade. Neste momento, percebo que temos tido poucos lançamentos: acho que tem a ver com as dificuldades que estamos passando. São artistas que vivem de música ao vivo, então deve estar complicado produzir, sem gerar dinheiro. Tenho procurado coisas diferentes: mas voltei para o Stevi Reich, um autor que sempre curti. Tem um estoniano Arvö Part, com um tipo de música muito minimalista. Consigo ver a ligação deste minimalismo da música erudita europeia com o minimalismo do funk e do brega funk. Esteticamente, são coisas que me agradam muito. Destacaria também os podcasts. É o novo rádio: ouço sempre.
O que falta para aumentar o consumo de nossa cultura? Brasileiros são cultos?
A cultura brasileira é muito popular, internamente. Não sei o que é uma pessoa culta. Acho que a gente aqui no Nordeste é muito culto, no sentido de que temos uma cultura muito forte, uma cultura tradicional que não está presa ao passado, que foi se transformando e se adequou aos tempos. Isso não é tese, nem hipótese: é a realidade. Percepção recente pra mim, num disco que produzi para Lia de Itamaracá: há capacidade de ela se renovar, aos 76 anos, sem perder a identidade. Achei formidável: isso representa toda a cultura tradicional como está presente em pessoas como o Siba, um mestre do maracatu, e que incorpora isso em sua produção. No interior, a tradição se adaptando, com MP3, com tecnologia, passa pelo celular e temática para sobreviver. Lembro-me de ter ido ao maracatu e o poeta, um senhorzinho, mandar uma puta rima sobre violência doméstica. Coisa que a molecada ligada ao pop anglo-saxão passa batido, os caras nem tão ligados nessas questões tão contemporâneas à sociedade em que a gente vive. A tradição nordestina é presente. Na tradição, vivos, eles estão ligados à realidade.
Viver de música é bênção?
Saber fazer música é uma bênção: viver de música é uma maldição, ainda mais no Brasil. Nós, artistas, temos sido perseguidos. Caluniados, das mais diversas formas. Tá foda ser artista no Brasil contemporâneo. Incrível, mas mesmo gente próxima, da família de círculo de amizade, tem uma ideia completamente errada sobre a atividade da gente. Some-se a isso aí a realidade: a gente não pode mais tocar, por não ter público. Fomos os primeiros a parar, por causa da pandemia, e seremos os últimos a voltar. Tem a questão econômica, ferrando nossas vidas com todo o gosto.
**Três perguntas// Cláudio Assis
Cláudio Assis é povo ou meio acadêmico?
Eu vim lá debaixo também. Eu vim lá de Caruaru: Alto do Moura. Então sou mais ou menos isso. Aprendi a viver essas coisas assim, na simplicidade. Ainda me empolgo muito com isso, me favorece. Convivo com isso hoje, carrego este impacto. Volto a esse lugar. O povo está vibrando: são homens honestos e de coração grande.
Como estás, em meio à pandemia?
Eu tô vivendo um tédio do caralho: tá foda. Você ficar guardado aqui, dentro de casa, sem poder sair para canto nenhum. Sem locomoção... Mas, tem que respeitar! Temos que nos guardar, em si. Tenho lido bastante, tenho escrito coisas. Penso em fazer um filme, e não é sobre pandemia. É um filme chamado Gigantes pela própria natureza: ele fala de anões. São pessoas pequenas que se tornam grandes.
No que resultou a série Ouro velho, mundo novo?
O tema sempre me invocou muito: admiro Mestre Galdino (artista plástico e poeta). Vivi muito nas cantorias de Caruaru, e no entorno do agreste e sertão. Nós buscamos pesquisar este universo deles. Nos confrontamos com coisas maravilhosas.
***Entrevista // Lírio Ferreira
Quem bebe da sabedoria popular é mais escolado na sobrevivência à pandemia?
A base mais sólida e original da nossa cultura é fruto da sabedoria popular. Sem ela, não seríamos nem de longe, o povo que nos tornamos. Não sei se quem a bebe vai sobreviver a essa pandemia, mas certamente quem bebeu e continua bebendo da água do Rio Pajeú, sobreviverá às intempéries que eventualmente nos colocam nesse estado de letargia.
Para você, que foi codiretor do filme Cartola, a malandragem rende que dividendos para o Brasil?
A malandragem sempre foi uma marca indelével da cultura brasileira. Para o bem e para o mal. O olhar é o que importa e quem a traduz.
O brasileiro ainda despreza patrimônios culturais próprios?
Para desprezar é preciso conhecê-los. Se faz necessário abrir o coração e a mente para algo que sempre foi seu e você ainda não sabe.
Como analisa a peculiaridade criativa (nas cantorias) ou de comportamento de pernambucanos e de paraibanos?
Para mim, Pernambuco e Paraíba é quase a mesma coisa. Na cidade paraibana de Umbuzeiro, basta atravessar a rua que você já está em Pernambuco. O grande clássico da cantoria era a aguardada disputa entre Louro do Pajeú x Pinto do Monteiro. Ao apito final, todo mundo saía ganhando.
O cinema novo é indissociável do audiovisual pernambucano?
O cinema novo é a fonte maior de todo o cinema de autor produzido no Brasil pós década de 60. Mora permanentemente no meu inconsciente. Talvez a garra venha de comemos muito coentro na infância. A história do audiovisual feito em Pernambuco remonta desde o começo do século passado com o Ciclo de Recife onde ainda na fase muda do cinema aqui na província, foram produzidos 13 longas-metragens. O ciclo do Super-8 na década de 70 também marcou esse diálogo intenso com o audiovisual, sobretudo o experimental. Hoje, vivemos uma espécie de terceira dentição. O que esses ciclos têm em comum? O coentro..(Fonte: Correio Braziliense)